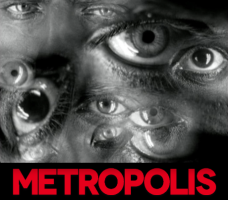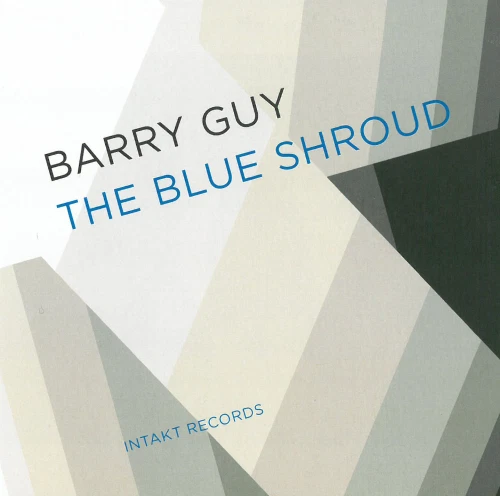
Por entre trincheiras e túneis morais de profusa verticalidade e intrepidez, o contrabaixista e compositor britânico Barry Guy vai sondando e esmiuçando os insuspeitos trilhos que encadeiam “Guernica” com a Cimeira das Lajes. Dito de outro modo, vai estudando a derradeira amplificação do alcance epistemológico de uma paleta onde se mesclam os tons de terra, sangue e morte da tela de Pablo Picasso com o monocromatismo de conveniência mediática e hermenêutica da cortina azul que expurgava e depurava a sentença marcial da preleção de Colin Powell que selava o consílio açoriano – ocultando, justamente, a réplica da pintura que naquele local (o Conselho de Segurança da O.N.U.) se representava. Ensaio de fôlego simultaneamente classicista e vanguardista, lírico e dissonante, idílico e traumático, majestoso e ignóbil, espiritual e belicista, este “The blue shroud” – executado por um ensemble que alista Agustí Fernández, Maya Homburguer, Savina Yannatou, para além do líder e de outros dez incensuráveis instrumentistas – é um exímio opúsculo de free jazz convergente e erudição afoita e folclore contrafeito e eletroacústica ascética e barroco engajado e improv matizado e distintas cenografias e narrativas sónicas de inusitadas consequências formais. Em moldes estritamente estéticos, trata-se de um programa de profunda originalidade e arrojo. Mas o que aqui se alcança estende-se muitíssimo para além do mero estatuto de acontecimento estético de recorte histórico. Isto é ética como música. Isto é ser (irrefutavelmente) humano e não ser qualquer coisa de desumano. Sem jamais compactuar com o branqueamento da memória coletiva. Sem jamais nos privarmos da fantasia holística que só a arte suprema permite.
Bruno Bènard-Guedes
disco “The blue shroud”, de Barry Guy
Intakt Records / DistriJazz, 2016
texto originalmente publicado no Jornal de Letras n.º 1198, de 31 agosto 2016